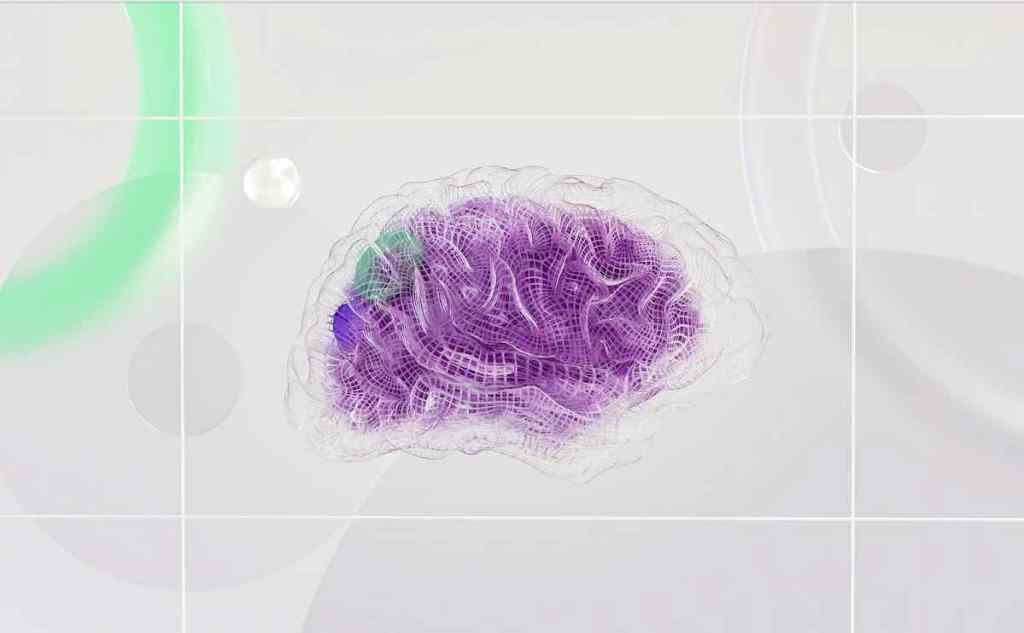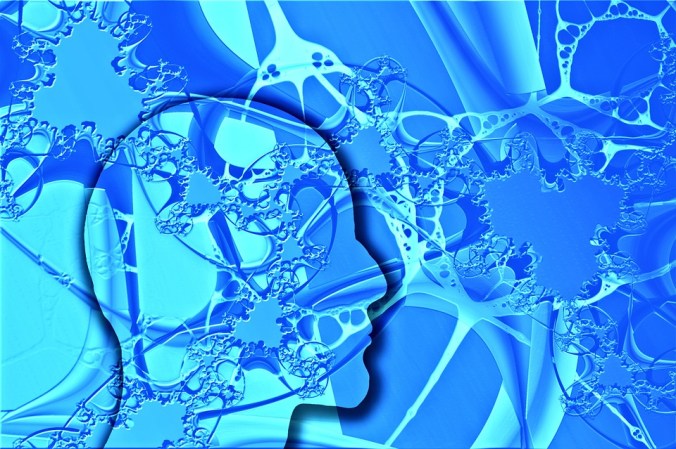Dr Renan Domingues
@o_cerebro_musical & @renandominguesneurologia

“Onde há devoção à música, Deus está sempre por perto
com sua presença generosa.”
Johann Sebastian Bach
Antes de iniciar o artigo propriamente dito, vou declarar um conflito de interesse. Sou absolutamente fascinado pela música de Bach desde quando minha memória musical pode alcançar. Ao mesmo tempo, considero-o um dos grandes mistérios da história: como pôde um humano ter feito o que ele fez, na primeira metade do século XVIII, com tanta dificuldade de acesso a informações? Apenas para ilustrar: Bach, com 20 anos, viajou cerca de 400 Km, a pé, de Arnstadt até Lübeck, para ouvir o organista Dietrich Buxtehude. O contato com os compositores italianos, como Vivaldi e Corelli, e franceses, como Couperin e Lully, veio um pouco depois, quando trabalhou na corte de Weimar. Na biblioteca musical da corte, teve acesso a manuscritos de obras desses e outros autores. Como não havia fotocopiadora, teve que transcrevê-las à mão para estudá-las.
Foi justamente o contraste do universo de Bach com o presente, marcado por um acesso quase ilimitado à informação e à escuta, além da facilidade inédita de cruzar estilos, épocas e linguagens e, paradoxalmente, conviver com uma sensação difusa de saturação criativa que gerou a inquietação que motivou este artigo. Mais do que um exercício de nostalgia ou de comparação ingênua entre passado e presente, trata-se de uma tentativa de refletir sobre o que distingue a mera acumulação de conhecimento da verdadeira criação, analisando o papel da intuição, do limite e da profundidade no processo criativo.
A música criada por Bach não rompeu com o passado. Ele absorveu um volume absurdo de informações musicais e o levou ao limite máximo de coerência, complexidade e universalidade. Nisso incluem-se influências de diversos compositores alemães, italianos e franceses, reorganizadas por ele com uma lógica inédita. Todos os elementos musicais já existentes como as tonalidades são explorados até o limite, e dentro de uma estrutura musical onde nenhuma nota é acidental, estando interligadas em uma lógica musical que transcende tudo o que até então havia sido produzido. Nessa lógica, com suas simetrias formais e elementos verdadeiramente matemáticos, a emoção deriva de uma ordem profunda, e não de soluções superficiais. As soluções musicais elaboradas por Bach deram origem a um campo inesgotável de investigação, atravessando séculos de estudos, análises e releituras, irradiando-se como fundamento da tradição ocidental. Bach foi a grande influência de compositores como Mozart, Haydn e Beethoven, além de todas as futuras gerações representantes da música ocidental estruturalmente elaborada.
Mesmo tendo investigado profundamente a música de sua época, Bach não foi apenas um “superprocessador” de estilos existentes. O seu cérebro foi capaz de absorver todo o passado musical, identificar estruturas profundas comuns entre linguagens distintas e reorganizá-las em um sistema muito maior do que o anterior. Ele não foi simplesmente a soma do que já havia; foi o multiplicador exponencial. Do ponto de vista cognitivo, fez muito mais que processamento; criou paradigmas. Não se restringiu a cruzar dados; criou hierarquias. Ele não apenas reconheceu e recombinou padrões. Decidiu quais eram fundamentais e como deveria organizá-los, para que se submetessem a uma lógica interna definida por ele. Podemos agrupar essas capacidades cognitivas dentro de uma função genérica, que aparentemente todos os humanos têm, em geral em pequeno grau, que é a intuição.
O conceito neurobiológico de intuição difere do senso comum. Intuição não é “insight”. Tampouco é uma forma ilógica ou preguiçosa de processar informações. Intuição é lidar com informações sem o uso da linguagem. É o que o cérebro sabe, mas não consegue explicar. Através da intuição nosso cérebro consegue extrair padrões a partir da experiência acumulada, sem inferir conscientemente como se deu o processo.
A neurociência tem identificado redes cerebrais que estão associadas ao processamento intuitivo. Um exemplo é a rede do modo padrão (default mode network) que integra várias regiões do cérebro e é importante para processar informações do passado, fazer simulações, pensamento abstrato e recombinações criativas. Outro circuito essencial no processamento intuitivo é a rede de saliência (salience network), que está envolvida na detecção de padrões relevantes e direcionamento da atenção, interrompendo o processamento automático. Uma área do cérebro importante para a intuição é o córtex pré-frontal, que é relacionado ao controle dos processos cognitivos. Curiosamente, a intuição está associada a menos ativação do córtex pré-frontal lateral e menos controle, permitindo ao cérebro quebrar padrões habituais, fazer associações remotas e encontrar soluções não lineares.
Outros circuitos têm sido associados à intuição, e o que reforça que essa é uma função cerebral peculiar é o fato desses circuitos não serem meros armazenadores de regras explícitas. Ao contrário, na intuição o cérebro reconhece estruturas profundas comuns a contextos diferentes, ignora detalhes superficiais e pode reorganizar sistemas inteiros. E, como isso exige integração global em várias camadas e não apenas uma otimização local, como ocorre na memorização simples, a intuição depende do envolvimento de grandes redes cerebrais.
Perguntei a uma ferramenta de inteligência artificial se seria possível, com os algoritmos modernos, construir modelos de processamento mental intuitivo semelhantes aos de Bach. Ela me respondeu que não, pois se hoje temos mais informação do que Bach jamais sonhou, os algoritmos apenas reconhecem padrões, recombinam estilos e atuam dentro de uma coerência local, em nível horizontal. A intuição de Bach lhe permitiu atuar em um nível vertical de abstração, criando hierarquias. Bach operava por sentidos e não meramente por correlações ou probabilidades.
A criação em Bach não foi apenas uma evolução linear do conhecimento, ele mudou as perguntas, e não apenas as respostas, redefinindo assim o que importava como música. Criar uma relação entre forma e conteúdo não surge automaticamente do cruzamento de dados, mas da capacidade de gerar novos sistemas simbólicos. As IAs não sentem relevância e não sabem quando um sistema precisa ser reinventado. Intuição está ligada a valor e significado, dimensões não pertencentes aos algoritmos. Curiosamente, o excesso de opções, que a infinitude de dados das IAs proporciona, atua contra a intuição, enquanto restrições favorecem a criatividade. Nesse sentido, vale destacar que Bach era um trabalhador contumaz, tinha regras rígidas e demandas semanais. A sua intuição era profundidade e não quantidade. Enquanto a IA amplia o território, Bach redefinia o mapa.
E o que falta à IA para dar esse “salto bachiano” rumo à intuição? Segundo essa mesma ferramenta, os algoritmos ainda precisam aprender a meta-criar os processos estéticos, e não apenas recombiná-los, ou seja, serem capazes de transformar o próprio sistema dentro do qual a criação acontece. Eles precisam aprender a reavaliar seus próprios objetivos musicais, decidir o que deve ser preservado e o que deve ser descartado. Para isso seria necessário operar com intenção simbólica e hierárquica, não só estatística.
Se os algoritmos são absurdamente eficientes para otimizar paradigmas pré-existentes, não são capazes de criar paradigmas novos. E o que torna ainda mais improvável esse “salto bachiano” é que o contexto que permitiu que esse fenômeno da música tenha existido no século XVIII, não existe mais. A tradução luterana, sendo a música parte da teologia, a prática semanal intensa (produção semanal de cantatas e oratórios), educação musical rigorosa e foco em profundidade são elementos estranhos aos nossos tempos.
Bach não fazia música para os homens, mas sendo uma pessoa de profunda fé, compunha uma música de grande profundidade para Deus. E aí talvez resida o grande abismo de paradigmas. A música, as artes e tudo que se produz hoje é feito para uma outra divindade: o mercado. Até a música religiosa é para vender, e vende bem! E para o mercado não há hierarquia ontológica, tudo são dados e estatísticas e não atos estético-filosóficos.
Se vivesse nos dias de hoje, Bach não precisaria viajar 400 Km a pé ou transcrever obras inteiras. Em poucos segundos daria a volta ao mundo e teria acesso a qualquer informação musical já arquivada. Talvez, para encontrar a música que ele buscava, teria que fazer uma outra viagem que a tecnologia não permite: uma viagem no tempo. Ouvir Dietrich Buxtehude improvisando ao órgão em uma igreja, no início do século XVIII, talvez não seja uma experiência alcançável com o Spotify. Digitalizar as partituras dos compositores italianos e franceses talvez nunca se equipare a transcrever, e sentir, cada nota copiada.
Bach, o seu Deus e a sua música residem no século XVIII. E, dentre as coisas boas que a tecnologia e o mercado nos permitem, está a possibilidade de olhar e sentir um pouco desse passado. Se isso não nos possibilita revivê-lo, pelo menos nos proporciona algum descanso para o nosso presente saturado, acelerado e encharcado de informação.
Renan Domingues é neurologista e Doutor pela Universidade de São Paulo (USP), com doutorado pela Universidade do Alabama em Birmingham, EUA e pós-doutorado pela Universidade de Lille, França. É músico e estudioso da neurociência da música. Escreve a convite do blog do Mílton Jung.