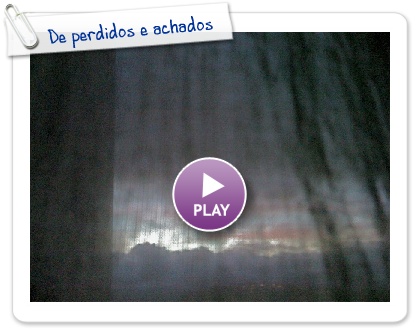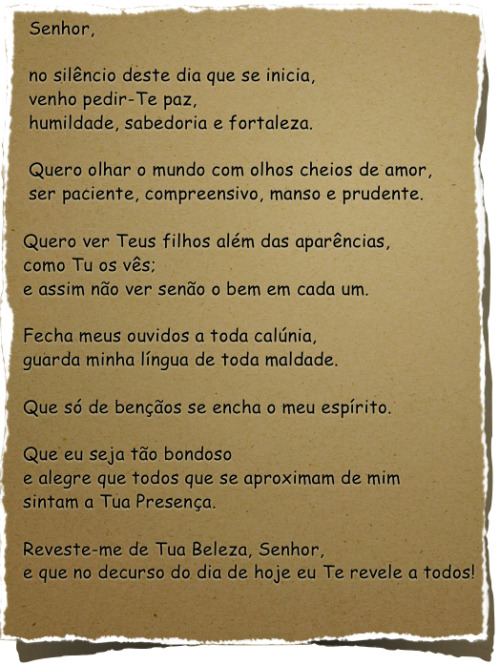Algumas frases atravessam os séculos e parecem ganhar vida nova a cada vez que são pronunciadas. “Si vis pacem, para bellum” — “se queres a paz, prepara-te para a guerra” — é uma delas. Wálter Fanganiello Maierovitch a toma como ponto de partida em “O Mercado da Morte: conexões e realidades” e a conduz até o presente, quando já não soa como advertência, mas como justificativa para uma engrenagem global que transforma guerras em negócios.
A opinião do autor, meu amigo de décadas, é direta: o que se convencionou chamar de “indústria de defesa” nada mais é do que a indústria da guerra, abastecida tanto por Estados quanto por traficantes, mercenários e organizações criminosas. Ao longo do livro, desfilam personagens emblemáticos, como Sarkis Soghanalian, o “Mercador da Morte”, e grupos como o Wagner, que na África trocam armas por diamantes. A fronteira entre interesses de Estado e crime organizado se dilui, revelando um mercado em que tudo se compra e se vende, inclusive vidas.
Outro eixo forte da obra é a espionagem. Maierovitch descreve como a “inteligência de Estado” se tornou prática oficializada, mas muitas vezes serve de cortina para assassinatos seletivos e negociações obscuras. O Mossad, a CIA, a Abin — cada qual aparece como peça de um tabuleiro no qual soberania e direitos humanos são frequentemente atropelados.
O livro não poupa as instituições internacionais. Meu colega do quadro “Justiça e Cidadania”, do Jornal da CBN, insiste que a primeira vítima das guerras é o Direito Internacional Público. O Tribunal Penal Internacional e a Corte Internacional de Justiça aparecem como instâncias frágeis, incapazes de conter crimes de guerra ou genocídios. Em vez de freio, funcionam como palco simbólico, em que ordens de prisão são ignoradas e Estados seguem agindo impunes.
Maierovitch traz ainda para o centro da narrativa os conflitos contemporâneos — Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas, a escalada com o Irã — tratados como laboratórios do “mercado da morte”. Drones, sistemas de defesa, armas nucleares, propaganda: tudo é testado em campo, e o lucro das empresas cresce na mesma proporção da destruição.
A “Coda” final sintetiza a visão impetuosa do autor. Citando Lampedusa, ele lembra que é preciso mudar tudo para que tudo permaneça como está. O que vale para a política italiana de O Leopardo serve também para o mercado da guerra: mudam-se os atores — gattopardos, leões, chacais ou hienas —, mas a engrenagem continua a mesma. O exemplo do Haiti, onde grupos armados dominam a capital, funciona como alerta de que não se trata apenas de conflitos entre Estados, mas de colapsos sociais que a comunidade internacional se mostra incapaz de conter.
“O Mercado da Morte” é um livro que incomoda, porque mostra que a paz armada é, no fundo, um grande negócio. A leitura sugere que a indignação é o mínimo que nos cabe diante de um sistema que se perpetua à luz do dia. E Maierovitch nos entrega todo esse conteúdo embalado em um texto escrito com esmero. Não me surpreendo: o autor já foi agraciado com o Prêmio Jabuti, o mais tradicional prêmio literário do Brasil, concedido pela Câmara Brasileira do Livro, com a obra “Máfia, poder e antimáfia — Um olhar pessoal sobre uma longa e sangrenta história”.
Participe do lançamento de “O Mercado da Morte”.
O livro “O Mercado da Morte: conexões e realidades” (Editora Unesp) será lançado no “Encontro com os escritores”, promovido pela Universidade do Livro, nesta sexta-feira, dia 26 de setembro, às 19h, na Biblioteca Mário de Andrade, na rua da Consolação, 74, centro de São Paulo. Para participar, faça aqui a sua inscrição, de graça. Eu terei o privilégio de mediar esta conversa com Wálter Fanganiello Maierovitch.