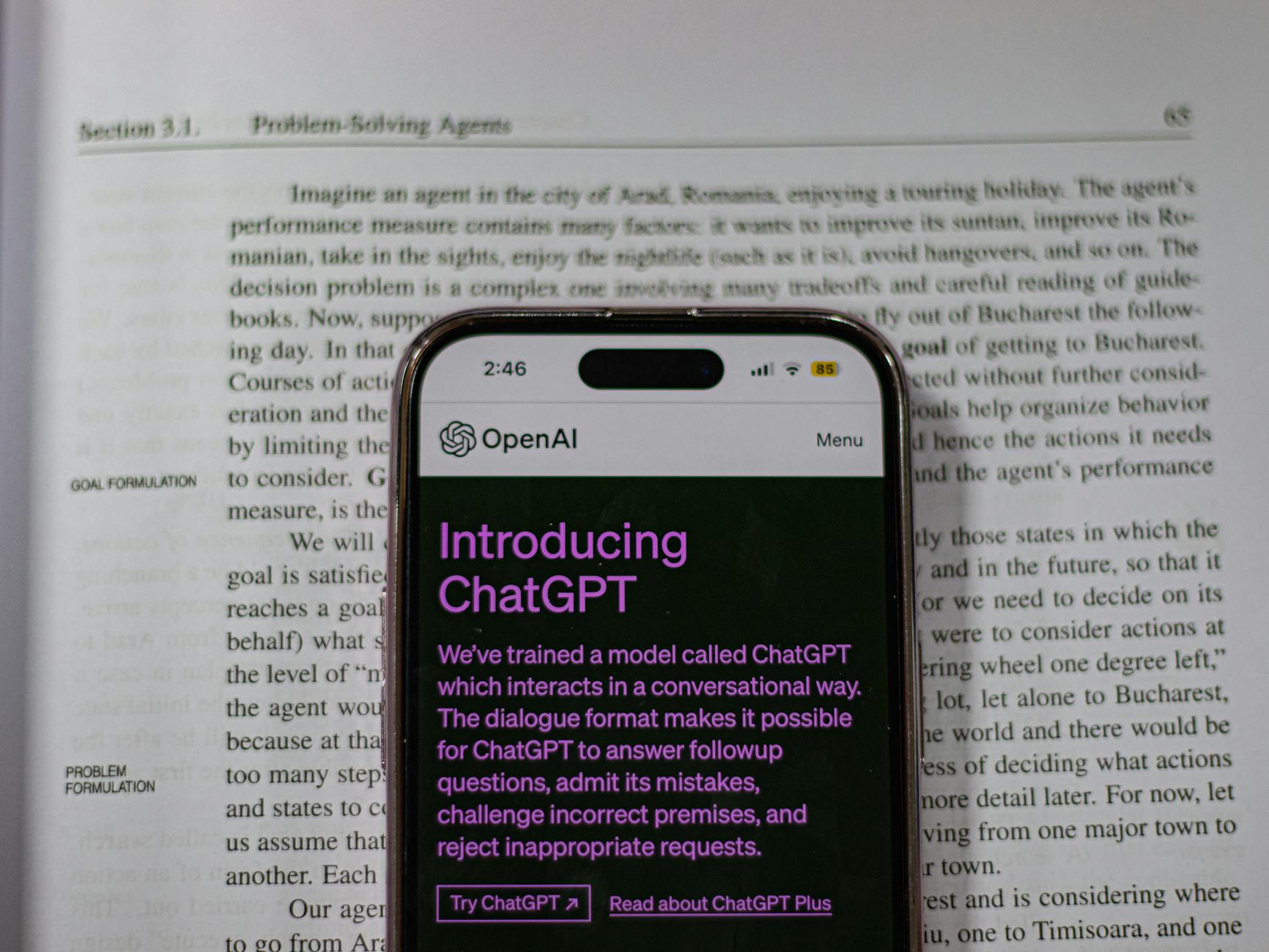O celular deixou de ser um meio. Tornou-se o ambiente.
O show já nasce pensado para a tela do celular. O enquadramento importa tanto quanto a música. O refrão precisa caber em quinze segundos. O aplauso virou registro. O espetáculo só se completa quando alguém levanta o braço, grava e publica. Não basta assistir. É preciso provar que esteve lá.
O mesmo acontece com filmes, séries e novelas. A imagem agora precisa funcionar no ônibus, na fila do banco, na pausa do almoço. O roteiro acelera, o plano encurta, o silêncio incomoda. Tudo para caber no bolso — e na atenção cada vez mais disputada.
A comida segue o mesmo caminho. Antes de ser comida, precisa ser fotografada. A exposição virou “instagramável”. A experiência só existe quando é compartilhada. O prato esfria enquanto o celular trabalha. E segue sobre a mesa, ocupando o espaço do diálogo.
Esse é o lado mais ruidoso da história. Há outro, bem mais duro.
O poder público também aprendeu a olhar pelo celular. Em São Paulo, o Smart Sampa cruza rostos, identifica suspeitos, localiza procurados. Nas estradas, câmeras com inteligência artificial verificam se o motorista usa cinto ou segura o celular enquanto dirige. O olho eletrônico se espalha no espaço público. Vigia. Registra. Arquiva.
Ao mesmo tempo, cresce a disputa sobre quem controla esse olhar. A exigência de câmeras corporais em policiais e agentes de segurança virou batalha ideológica. Para uns, transparência. Para outros, ameaça. O debate não é técnico. É político. E, sobretudo, simbólico.
É nesse ponto que o texto de Julia Angwin, publicado no The New York Times, nesta segunda-feira, acende um alerta.
Ela descreve o celular não como distração, mas como arma cívica. Uma ferramenta de proteção do cidadão diante da violência do Estado. Nos Estados Unidos, pessoas foram intimidadas, agredidas e até mortas enquanto filmavam ações de agentes federais. Em alguns casos, o simples ato de gravar passou a ser tratado como violência. Alex Pretti foi executado por membros do ICE, em Minneapolis, portando como arma um celular.
O que está em jogo não é apenas o direito de filmar. É o direito de testemunhar.
O celular guarda algo precioso: a possibilidade de responsabilização futura. Mesmo que quem filma seja silenciado, a imagem permanece. Ela pode desmentir versões oficiais, expor abusos, recontar a história. Não por acaso, regimes autoritários costumam começar cortando a internet. Sem imagem, não há prova. Sem prova, sobra a narrativa de quem manda.
Há quase três décadas, o escritor David Brin antecipou esse dilema ao perguntar: quem controla as câmeras? Quando só o Estado vê, temos vigilância. Quando todos podem ver, temos fiscalização recíproca. A diferença entre opressão e liberdade passa pelo controle do olhar.
Vivemos, portanto, um paradoxo. O mesmo celular que nos distrai também nos defende. O mesmo aparelho que nos expõe pode nos proteger. Ele banaliza a vida e, ao mesmo tempo, preserva a verdade.
Talvez por isso incomode tanto quando alguém manda “guardar o celular”. Especialmente quando quem faz o pedido é pago com dinheiro público.
Na sociedade do celular, o risco não está no aparelho. Está em desistir de olhar — ou em aceitar que apenas alguns tenham o direito de fazê-lo.
O celular não é neutro. Ele revela quem somos, o que consumimos, como nos exibimos. E, quando necessário, mostra aquilo que alguém preferiria esconder. Nesse sentido, ele não é só um objeto do nosso tempo. É um termômetro da nossa democracia.
Porque onde ninguém pode filmar, quase sempre há algo errado acontecendo.