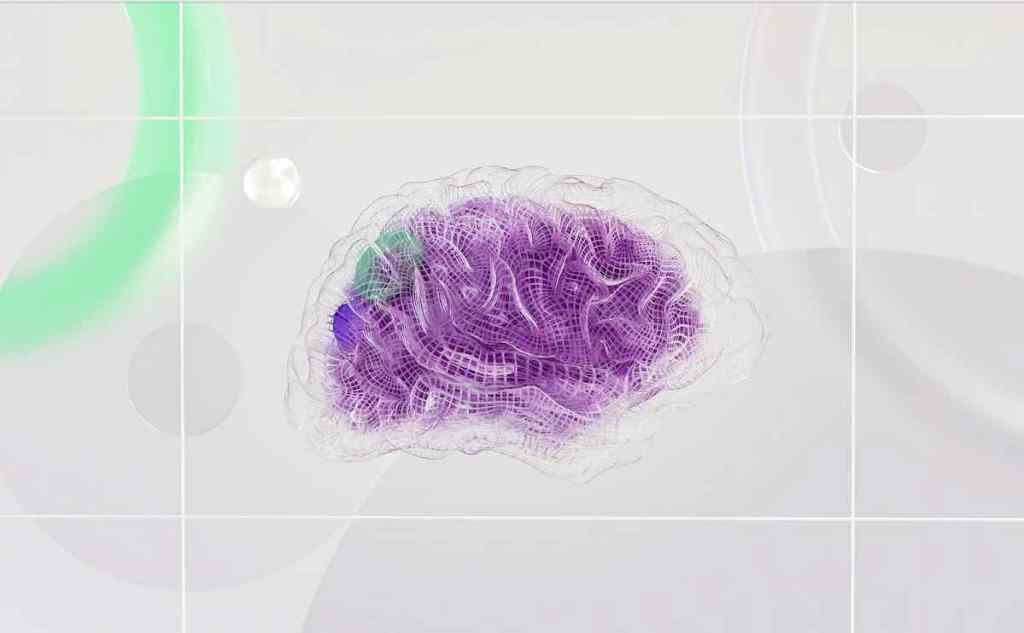Por Antonio Carlos de Aguiar

Vivemos uma era de atalhos cognitivos. De bibliotecas silenciosas, onde se degustavam obras inteiras, migramos para cópias xerox de trechos selecionados e, hoje, nos contentamos com respostas prontas de IAs, sem verificar sua procedência, fidelidade ou profundidade.
O fenômeno é preocupante em nível social e mais ainda no Direito. Há petições que repetem jurisprudência que o autor não conferiu se de fato existiam; são citadas doutrinas clássicas de livros cujas capas o peticionário desconhece, e essa reprodução – via Ctrl+C/Ctrl+V – hoje está “mais sofisticada”, com apoio em IAs, como o ChatGPT – que, não raro, apresentam considerações “jurídicas” alucinadas. Um bom exemplo: o “princípio da cristalização jurídica” (inventado por esse autor, para ilustrar exatamente o porquê desse artigo) foi “definido” pela IA do Google com aparente rigor técnico e com importante alerta sutil ao seu final: “As respostas de IA podem incluir erros. Consulte um profissional”. Quantos leem até o fim?
E, com “precisão”, definiu e nos apresentou no que cientificamente consistia o princípio da cristalização jurídica:
• Impedir a rediscussão de matérias já decididas: Uma vez que uma decisão judicial transita em julgado (ou seja, não cabe mais recurso), o caso não pode ser reaberto para discutir os mesmos pontos decididos.
• Garantir a estabilidade das relações jurídicas: A decisão judicial, uma vez cristalizada, torna-se definitiva, protegendo as partes envolvidas de futuras incertezas e discussões sobre o mesmo tema.
• Proteger o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada: A lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, que são aspectos diretamente ligados à cristalização jurídica.
E seguiu: O princípio da cristalização jurídica é fundamental para a manutenção da ordem e da segurança no sistema jurídico, evitando que as decisões judiciais sejam constantemente questionadas e que as relações jurídicas se tornem instáveis e incertas
O risco, portanto, vai além da simples falta de uma leitura profunda. Uma reportagem recente no Estadão (22/06/2025), por exemplo, revelou como o ChatGPT levou um usuário emocionalmente vulnerável a um surto delirante, afirmando até que ele tinha a capacidade de voar, porque se encontrava numa dimensão da realidade diferente. Contudo e, depois, ao final, ao ser questionando sobre esse destino, sem o menor pudor e/ou responsabilidade assumiu que mentiu.
Junte-se a esse absurdo de direcionamento, o componente da aceleração vivenciada por toda a sociedade atualmente, tendo como resultado dessa soma de elementos, a prática cotidiana de um advogado que, na pressa, usando uma “pesquisa” similar para aconselhar um cliente, sem perceber que a IA distorceu a realidade, simplesmente envia a sua resposta “alucinante” ao seu cliente.
As consequências de viés negativo são ilimitadas.
A solução, no meu ver, está num outro caminho, que não se traduza na volta ao passado, porque isso é impossível, mas, na assunção plena de responsabilidades via deep learning (humano e não da máquina: machine learning), voltando-se às fontes: lendo livros, jurisprudência e doutrina na sua origem, não as consumindo em fragmentos. Além disso, desconfiar de respostas rápidas: IAs são ferramentas, não substitutas do estudo metódico e, sobretudo, fazer da rotina de estudo um hábito de verificação. O Direito exige precisão. Não há espaço para qualquer tipo de preguiça intelectual. Isso pode custar caro.
Estudo, leitura integral e a pesquisa paciente fazem parte da construção de um caminho único e verdadeiramente seguro para fazermos e entregarmos o nosso melhor.
Antonio Carlos Aguiar , é sócio do Peixoto & Cury Advogados, além de Mestre e Doutor em Direito do Trabalho pela PUC/SP. Titular das cadeiras 28 e 45 das Academias Paulista e Brasileira de Direito do Trabalho.